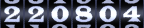Bush, Cheney e os crimes de guerra (Argemiro Ferreira)
(Da Tribuna da Imprensa)
O pouco dotado presidente George W. Bush e seu vice todo poderoso, Dick Cheney, preparam-se para festejar o Natal e, a 20 de janeiro, tomar outro rumo. O governo deles desceu a um nível de aprovação mais baixo do que qualquer outro nos 232 anos de história do país. Avaliado e julgado com rigor dentro e fora de casa, sai quase escorraçado. Passa o poder depois de sofrer repúdio esmagador na eleição.
Pior ainda: dificilmente Bush e Cheney conseguirão descansar do pesadelo que legaram ao país. Continuarão a ser execrados em relatos contundentes como o do livro "The Dark Side - The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals", lançado em julho pela jornalista Jane Mayer. Ela expôs o lado mais sinistro e repulsivo da dupla: a guerra aos próprios ideais americanos.
"The Dark Side" devassou a trama interna dentro do governo que, a pretexto de responder ao ataque de 11 de setembro de 2001, recorreu a operações abusivas de segurança nacional, frequentemente ilegais e cujo extremismo é comparável ao dos próprios terroristas que atacaram o World Trade Center e o Pentágono - em especial, as prisões secretas pelo mundo e o uso explícito da tortura, violando as leis do país e tratados internacionais.
À frente de tarefas macabras
Antes desse livro, o trabalho da autora já fora consagrado profissionalmente no "Wall Street Journal" (em fase bem anterior à venda do jornal, em 2008, ao império Murdoch de mídia); na revista "The New Yorker"; e em mais dois livros - "Landslide", sobre a desintegração do governo Ronald Reagan entre 1984 e 1988, e "Strange Justice", sobre a aprovação controvertida do juiz Clarence Thomas para a Suprema Corte.
A expressão "dark side" (lado maligno, escuro, sinistro), que dá título ao livro, foi usada no programa "Meet the Press", da NBC, ao ser o entrevistado Cheney, a 11 de setembro de 2006, perguntado sobre o lado sombrio que se atribuia ao papel dele no governo. "Parte do meu trabalho é pensar o impensável, encarar o que pode haver no arsenal terrorista contra nós", tentou justificar ele.
No livro, Jane Mayer afirma que os arquitetos da rede de prisões secretas para torturar detidos, usadas pelo mundo durante os dois mandatos de Bush na Casa Branca, integravam grupo pequeno, mas poderoso, enquistado no governo. Cheney estava no centro do esforço mas delegava muitas das operações a outros, cabendo ao seu conselheiro jurídico David Addington um conjunto de tarefas macabras.
Descrito como prepotente, implacável e arrogante, Addington era o executor da estratégia e, na prática, neutralizava qualquer desafio aos abusos e excessos com a alegação de que tudo o que se fazia tinha sido sancionado pelo próprio presidente. Ao mesmo tempo, descartava como "fraqueza" ou "ingenuidade" todo tipo de questionamento de ordem jurídica e moral.
Advogados para qualquer papel
Ao analisar o livro para o "New York Times", o professor de História Alan Brinkley - da Universidade de Columbia, em Nova York onde era o decano de sua especialidade entre entre 2003 e 2008 - referiu-se particularmente ao infame memorando de John Yoo, hoje professor de Direito na Universidade de Berkeley e que servia antes no Escritório de Assessoria Jurídica do Departamento de Justiça.
Para dar cobertura legal à tortura, Yoo simplesmente buscou "redefinir" o que é tortura. Outros que contribuiram para o vergonhoso esforço pro-tortura foram George Tenet, diretor da CIA e sempre inclinado a agradar superiores; Alberto Gonzalez, que passou de conselheiro jurídico de Bush na Casa Branca a Procurador Geral, até ser forçado a renunciar; e William Haynes, conselheiro jurídico do Pentágono.
Graças a tal exército de subservientes ambiciosos, muitos deles só contratados por se prontificarem a alugar o conhecimento fornecendo aos donos do poder pareceres infames de que precisavam para encobrir ações indecentes e ofensivas aos direitos humanos, a chamada "guerra ao terrorismo" de Bush tornou-se, como diz o título de "The Dark Side", uma guerra aos próprios ideais americanos.
Todos eles, para Brinkley, tiveram papéis vitais. "Instado por Cheney e seu protegido Addington, Bush invalidou as convenções de Genebra e, sem o admitir publicamente, sustou o habeas corpus para suspeitos de terrorismo - obstáculos importantes à tortura. Além disso, subverteu-se a convenção internacional contra a tortura (de 1984) que, sob a liderança dos EUA, definira a tortura pela primeira vez.
"Isso é o que os inimigos fazem"
Mayer cita ainda no livro o uso do ex-psicólogo militar James Mitchell, que na década de 1950 conduzia na CIA o programa militar secreto SERE, que ensinava pessoal de alto risco a suportar torturas no caso de captura. O programa, cuja sigla significa "Sobreviver, Evadir, Resistir, Fugir", foi adaptado para estudar o nível de dor e humilhação que cada torturado pode suportar. Tornou-se o padrão para interrogar e torturar.
Introduzidos ao programa na CIA, agentes do FBI indignaram-se com as táticas, também consideradas ineficazes, e se retiraram. "Isso nós não fazemos. Isso é o que nossos inimigos fazem", disse um. Parte do que Mayer relatou também já aparecera antes graças a outros jornalistas - como James Risen e Scott Shane (do "New York Times"), Dana Priest ("Washington Post") e Seymour Hersh ("The New Yorker").
Houve oposição de alguns no Departamento de Estado, FBI, CIA e Congresso mas pouca gente ousou confrontar Cheney - "claramente a fonte daquelas políticas", segundo Mayer. Entre os poucos, um pequeno e corajoso grupo de advogados que viam aquilo como ilegal e imoral. Foi o caso de Jack Goldsmith (Departamento de Justiça), Alberto Mora (Marinha) e Matthew Waxman (Pentágono). Não adiantou.
Talvez Bush e Cheney ainda consigam dormir à noite. Mas sabem que vão ficar na história - e antes da morte ainda haverá o risco de serem chamados a enfrentar um tribunal internacional, como os criminosos de guerra depois da derrota nazista na II Guerra Mundial.
Leia o blog do colunista