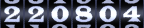O Afeganistão e as raízes do império americano (Argemiro Ferreira - Tribuna da Imprensa)
A decisão do governo Obama de reforçar as tropas dos EUA no Afeganistão sugere uma volta ao debate sobre o império americano. Nessa discussão alguns chegaram a se referir com escrúpulo, há sete anos, à E-word (palavra E, Empire) ou à I-word (palavra I, Imperialism). Na ocaião, um livro optou ostensivamente, no título, pela expressão "Império Americano". Andrew Bacevich, o autor, observou que cada vez mais a corrente central do pensamento no país reconhecia o papel imperial dos EUA.
A questão que "os americanos não podem mais se dar ao luxo de evitar não é se os EUA se tornaram potência imperial. A questão é que tipo de império pretendem que seja o deles", escreveu Bacevich. Para ele, deixar de reconhecer o fato e tentar esconder a realidade imperial pode levar a "não só negar o império americano como a um grande perigo para aquilo que foi conhecido como república americana".
Na fase inicial o debate era mais sobre a nova ordem mundial e o papel ampliado e novas responsabilidades globais dos EUA, devido ao fim da União Soiviética. Foi nesse contexto que o neoconservador Paul Wolfowitz (número 2 do Pentágono entre 2001 e 2005, depois chefão do Banco Mundial até ser defenestrado por privilegiar a namorada) redigira em 1992 para Dick Cheney, então secretário da Defesa, um documento de contornos imperiais, uma DEG - Orientação de Política da Defesa. Mas havia antecedentes históricos.
O fervor imperialista de Ted Roosevelt
No final do século XIX, depois de ter sido adicionado ao território dos EUA o que hoje são os estados do Texas, Novo México, Califórnia e Arizona, Theodore (Ted) Roosevelt defendeu a expansão colonial no Caribe, Ásia e Pacífico, rumo ao status de potência mundial. Jornalistas (Hearst e Pulitzer à frente, na competição do yellow journalism), homens de negócios, banqueiros e políticos apaixonaram-se pela idéia.
No seu fervor imperialista, Roosevelt - herói e mito graças à sua "esplêndida guerrinha", a tomada de Cuba - evocava Rudyard Kipling, o poeta do imperialismo britânico e do "fardo do homem branco". Surgiram, quase à mesma época, as comparações com o Império Romano. "Somos uma grande República Imperial, destinada a exercer influência controladora sobre as ações da humanidade", previra Marse Henry Watterson em 1896.
Logo depois do 11 de setembro, outro neoconservador, Max Boot, ousou um puxão de orelha no secretário Donald Rumsfeld, por ter declarado que os EUA não buscavam império. "O problema é que isso não é verdade. Os EUA têm sido um império, desde pelo menos 1803, quando Thomas Jefferson comprou o território da Louisiana. (...) O império estendeu-se ao exterior, adquirindo colônias, de Porto Rico e Filipinas ao Havaí e Alasca", escreveu.
Do outro lado do espectro político, um historiador revisionista da fase aguda da guerra fria, William Appleman Williams, teria concordado em parte. Ao constatar em 1980, uma década antes de sua morte, que as palavras "império" e "imperialismo" não encontravam "hospitalidade fácil nas mentes e corações da maioria dos americanos contemporâneos", Williams lembrou não ter sido sempre assim.
Sinônimo do Sonho Americano
"Império era comum no vocabulário dos americanos que fizeram a revolução contra a Grã Bretanha e no daqueles que conceberam e executaram o subsequente levante doméstico", afirmou Williams. E mais: "Nossos Revolucionários e Pais Fundadores, conheciam as idéias, a linguagem e a realidade do império a partir do estudo deles da literatura clássica sobre a Grécia e Roma (e sobre a política em geral)".
A palavra império, observou, era usada regularmente por eles nas conversas sobre a Inglaterra; e a empregavam cada vez mais ao falar da própria condição deles, de suas políticas e aspirações. Tornou-se, na verdade, sinônimo da realização do Sonho deles". Para Williams, as gerações posteriores é que se tornaram "menos francas sobre as atitudes e práticas imperiais, apoiando princípios nobres como 'integridade territorial e administrativa' e a meta de 'salvar o mundo para a democracia' - mesmo quando destruiam as culturas dos Primeiros Americanos, conquistavam a metade do México e expandiam incansavelmente o poderio de seu governo em todo o globo."
Na análise de Williams, "império tornou-se tão intrinsicamente nosso sistema americano de vida que passamos a racionalizar e suprimir a natureza de nossos meios na euforia de nosso usufruto dos fins. Abundância era liberdade, e liberdade era abundância. A democrática Cidade na Colina. Daí projetarmos nosso imperium para o exterior, sobre os outros - declarados amigos ou então antagonistas malignos".
Na visão daquele historiador, tal processo de reificação, de transformação das realidades da expansão, conquista e intervenção numa retórica de cunho religioso sobre virtude, riqueza e democracia, alcançou seu ponto culminante nas décadas seguintes à II Guerra Mundial. Ele se referiu aos "incontáveis documentos que monitoram o avanço de nosso auto-embuste imperial, nossa rendição à doutrina".
Aberração na história do país?
Segundo Williams, talvez o mais revelador, entre os muitos documentos, tenha sido um estudo conspículo do Conselho de Segurança Nacional feito em 1949-50 e conhecido como NSC-68. "Ali os líderes dos EUA declararam o direito e a responsabilidade excepcionais de impor a 'ordem entre as nações', uma ordem da escolha deles, para que 'nossa sociedade livre possa florescer'".
A propósito das manifestações imperiais de Ted Roosevelt, foi sintomático como historiadores ortodoxos, afinados com o pensamento dominante, distanciaram-se do entusiasmo de Watterson. Pouco condescendentes na crítica, viram aquele período imperialista como aberração na história de um país que oferecera ao mundo o exemplo da guerra da independência contra a domínio colonial britânico.
De qualquer forma, o fervor imperialista daquele primeiro Roosevelt (um dos presidentes mais amados pelas gerações seguintes, embora às vezes por razões mais nobres, pois era também o trust buster) foi retomado pelos neoconservadores (com a DPG) na agonia da guerra fria, ainda no período do primeiro Bush, quando a escola Cheney-Wolfowitz tinha o controle do Pentágono. A dupla prevaleceu não no primeiro momento, com o primeiro George Bush, mas quase uma década depois, sob Bush II.
O reforço de 17 mil soldados no Afeganistão, enviados pelo presidente Barack Obama, mostra no mínimo que o legado dos neocons permanece vivo - mesmo sem a presença deles no governo.