Hiroshima: a bomba, o poder e a memória
Nagasaki-depois-de-Hiroshima – isto é: repetir Hiroshima sabendo-se o suficiente sobre o grau da destruição provocada – não suscitou apenas a discussão sobre o caráter militarmente redundante da segunda bomba e do seu significado quase estritamente político: o Japão preparava-se para a rendição, o que tornava supérflua a destruição de Nagasaki (se não mesmo até a de Hiroshima), mas era preciso sublinhar perante os soviéticos e o mundo a superioridade arrasadora dos EUA. Ponto de chegada de uma escalada alucinante na construção de uma capacidade técnica de destruição definitiva sem paralelo na história – Truman explicou-a aos japoneses como “uma chuva de destruição [a rain of ruin] vinda do céu, diferente de tudo o que se tenha visto nesta terra” (comunicado presidencial de 6.8.1945) -, a Bomba, a par de Auschwitz, tornou-se um símbolo do triunfo da civilização tecnológica e da sua intrínseca insensibilidade social e humana, capaz de reorganizar o mundo precisamente porque capaz de destruir um número inconcebível de vidas através de processos expeditos, incompatíveis com qualquer discriminação entre combatente e civil e com qualquer reflexão sobre o valor intrínseco da vida. A história da guerra foi sempre feita de danos colaterais, para usar o neo-militarês dos últimos vinte anos. Mas nunca fora feita de semelhante grau de indiscriminação e amplitude de destruição. Não é tanto a segunda que caracteriza a Bomba; é sobretudo a primeira.
Além disto, como estudou Garry Wills (autor de Bomb Power, 2010), a preparação da bomba atómica foi acompanhada de uma bateria de leis que “contribuíram para criar os regimes de segurança e de vigilância sob os quais vivemos hoje, concedendo ao [poder] executivo uma margem de ação considerável, não só em tempo de guerra mas também em tempo de paz”. Os novos instrumentos da estratégia planetária de Washington que nascem nesses anos - a Comissão da Energia Atómica, a CIA, a Agência de Segurança Nacional (NSA) - dependem diretamente do Presidente dos EUA, que “pode alocar verbas, gerir as redes de espionagem e usar a mais terrorífica das armas de destruição massiva sem qualquer controlo por parte dos poderes legislativo e judiciário”. De facto, e como escreve David Marcus (Le Monde, 6.8.2015), “a arma nuclear [contribuiu fortemente] para minar o processo democrático”, confirmando assim uma máxima muito óbvia: a guerra é sempre o melhor instrumento de manipulação política, o melhor pretexto para a suspensão de direitos, liberdades e garantias, do próprio Estado de Direito. Marcus cita Dick Cheney, vicepresidente de Bush Jr., que recordava em 2008 que o presidente dos EUA tem o poder de “desencadear um ataque devastador como o mundo nunca viu [sem] precisar de consultar ninguém, sem precisar de convocar o Congresso, sem precisar de o comunicar ao poder judicial.” Na peculiar explicação de Cheney, “esta prerrogativa decorre da natureza do mundo em que vivemos”...
Quem julga que vivemos hoje com mais garantias cívicas do que aquelas de que dispunham as chamadas democracias nos anos 30 ou 40, que muito se melhorou na transparência do exercício do poder, precisa de avaliar as consequências destes 70 anos de securitarismo nuclear que atravessou a Guerra Fria mas que se prolongou, e acentuou, nos últimos 25 anos. A Bomba “desregulou a nossa bússola moral e política. (…) Vivemos ainda hoje à sombra deste cogumelo atómico de opacidade e estado de emergência permanente” que permite que o aparelho militar e securitário dos EUA – e o da maioria dos Estados – se arrogue o direito, e a necessidade, de vigiar/escutar indiscriminadamente os seus cidadãos, invocando uma natureza preventiva do processo para não precisar de qualquer autorização judicial, isto é, desrespeitando as regras mais básicas do mesmo Estado de Direito que estas políticas dizem querer preservar.
A Bomba deu origem ao Big Brother (que se finge) democrático. Mas Hiroshima foi também um momento fundador de uma cultura da paz através da preservação da memória do horror total, de outra forma de Mal absoluto (ver Ran Zwigenberg, Hiroshima. The Origins of Global Memory Culture, 2014). Os EUA, que ocuparam o Japão até 1952, recusaram-se a tratar os sobreviventes, os hibakusha, mas obrigaram-nos a submeter-se aos estudos da Atomic Bomb Casualty Commission criada em 1946. Tornaram-nos verdadeiras cobaias, ao mesmo tempo que se lhes proibia transmitir a memória de Hiroshima: até ao fim da ocupação, toda a informação sobre as duas explosões nucleares foi censurada, confiscadas todas as fotografias. Só em 1957 é que os hibakusha passaram a receber um tratamento especial, por parte das autoridades japonesas, mas muitos não se registaram para evitar “a discriminação de que eram vítimas. 'Mesmo em família não se falava, procurávamos esconder que éramos atomizados: dizia-se que as radiações se transmitiriam geneticamente, que os nossos filhos nasceriam deficientes, que morreríamos cedo…'”, lembra uma das sobreviventes (Le Monde, 5.8.2015). Exatamente como sucedeu com os sobreviventes de Auschwitz, os hibakusha ocultaram a identidade e a memória que os tornava testemunhos de exceção.
Sobre o silêncio das vítimas de Hiroshima construiu-se a viabilidade de todas as guerras desde há 70 anos. Por algum motivo Kenneth Bainbridge, o físico que dirigiu o ensaio nuclear final de 16 de julho de 1945, ao ver os seus resultados, terá dito a Robert Oppenheimer, o chefe do Manhattan Project: “A partir de agora, somos todos uns filhos da puta” (“Now we are all sons of bitches”).


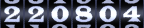
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial